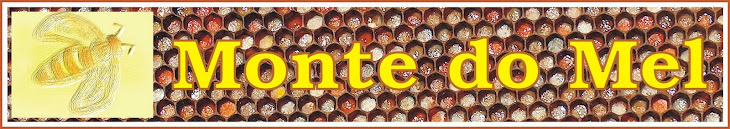Semanas antes da partida para a Amazónia e para me documentar sobre o assunto, pesquisei na net a existência de associações ou outras organizações apícolas na região.
Semanas antes da partida para a Amazónia e para me documentar sobre o assunto, pesquisei na net a existência de associações ou outras organizações apícolas na região.Foi com alguma surpresa que soube então da raridade de criadores de Apis mellífera nessas paragens, motivada pela dificuldade de adaptação destes insectos à mata cerrada que caracteriza o local.
Uma possibilidade que nunca me tinha ocorrido. A nossa apicultura é quase sempre praticada em planícies pouco arborizadas ou em matagais cujo coberto raramente vai além dos dois metros de altura. Quando a flora compreende zonas florestais, a densidade de arborização permite a passagem das abelhas com muita facilidade e são exemplos disso os montados de sobro e azinho ou os soutos de castanheiro.




 Em contrapartida, os meliponíneos mostram-se perfeitamente adaptados à vida e à polinização do maciço verde da floresta Amazónica, encontrando-se com muita frequência colónias selvagens destes insectos na mata cerrada.
Em contrapartida, os meliponíneos mostram-se perfeitamente adaptados à vida e à polinização do maciço verde da floresta Amazónica, encontrando-se com muita frequência colónias selvagens destes insectos na mata cerrada.Apesar da manifesta dificuldade em encontrar espaços amplos para a prática da apicultura com Apis em Manaus, há apicultores que optaram por esta modalidade de uma forma exclusiva ou criando também meliponíneos.
Foi então durante a visita a Puraquequara – Manaus, que tivemos a oportunidade de visitar um apiário com tal particularidade e que há muito me fascinava: as abelhas africanizadas.
Como sabem, há umas boas décadas atrás, do trabalho do Prof. Warwick Estevam Kerr (1) no Brasil, com o cruzamento de abelhas europeias e africanas, resultaram as chamadas abelhas africanizadas.
São abelhas mais pequenas, tipicamente híbridas ou não apresentassem as características dos dois grupos parentais, e sobretudo muito “temperamentais”.

 São inúmeros os relatos e documentários que exibem o seu potencial agressivo.
São inúmeros os relatos e documentários que exibem o seu potencial agressivo.O apiário visitado, propriedade de João Rodrigues, localiza-se no sítio do “Seu” Chico, onde tanto um como outro mostraram a maior das amabilidades e simpatia em nos receberem para a desejada visita aos apiários.
 O apiário das abelhas africanizadas, com cerca de uma dezena de colónias, encontrava-se a menos de 100 metros de um meliponário e apesar disso sem qualquer registo de ataques ou pilhagens de parte a parte.
O apiário das abelhas africanizadas, com cerca de uma dezena de colónias, encontrava-se a menos de 100 metros de um meliponário e apesar disso sem qualquer registo de ataques ou pilhagens de parte a parte.Ambos os locais estavam juntos a uma mata densa com todos os estratos ocupados por vegetação. No entanto, devo referir que as práticas agrícolas neste local originavam áreas algo extensas de floresta menos densa, assemelhando-se a corredores mais desimpedidos por onde as abelhas podiam circular com relativa facilidade.

 Começamos por nos equipar a uma distância segura, longe da vista das agressivas abelhas. Consegui vestir sobre os calções um fato de treino e só depois um macacão de apicultor emprestado pelo João.
Começamos por nos equipar a uma distância segura, longe da vista das agressivas abelhas. Consegui vestir sobre os calções um fato de treino e só depois um macacão de apicultor emprestado pelo João.Nunca mais me queixo da inspecção de colmeias durante o Verão no Alentejo. Se por aqui tal tarefa é equiparável a uma sauna, na Amazónia só falta a pressão para nos sentirmos numa autoclave. E não é para menos, com temperaturas a rondar os 40ºC e humidade atmosférica próxima dos 80 a 90%...
Mas valeu a pena e foi bastante divertido, nada de insuportável.
Por precaução, e não sei se não é prática habitual, acendemos dois fumigadores de dimensões descomunais, cuja baforada de fumo lembrava a das antigas locomotivas a vapor. Apesar disso, várias vezes interrompemos a tarefa de inspecção de colmeias para nos fumigar-mos uns aos outros, tal era a carga de abelhas que nos circundava.
 Pelo menos aparentemente, a agressividade das diferentes raças de abelhas manifesta-se de uma forma quantitativa e não qualitativa: quero eu dizer que se se tratar de abelhas italianas, quando abrimos uma colmeia virão atacar-nos uma ou duas abelhas (e nem sempre).
Pelo menos aparentemente, a agressividade das diferentes raças de abelhas manifesta-se de uma forma quantitativa e não qualitativa: quero eu dizer que se se tratar de abelhas italianas, quando abrimos uma colmeia virão atacar-nos uma ou duas abelhas (e nem sempre). Com a abelha negra europeia já poderemos ser recebidos por umas dezenas de indivíduos e nas africanizadas, o comité de “boas vindas” contará decerto com centenas de insectos/colónia:

 Tranquilizou-me o facto dos equipamentos utilizados, iguais aos que usamos, aguentaram perfeitamente tais ataques. Ainda por cima utilizei uma máscara quadrada, menos eficaz na protecção do rosto.
Tranquilizou-me o facto dos equipamentos utilizados, iguais aos que usamos, aguentaram perfeitamente tais ataques. Ainda por cima utilizei uma máscara quadrada, menos eficaz na protecção do rosto.Consegui ser picado por uma abelha africanizada.
Não vou propriamente inscrever tal façanha no curriculum, mas senti-me ultrapassar uma barreirazinha qualquer, género ritual iniciático, ou como diz o meu amigo Mário Serrano “Ferradela”, tornei-me merecedor do mel dessas abelhas.
Confesso que não foi lá grande picada, foi por cima da luva, mas senti-lhe o veneno. Por teimosia ainda estive para a retirar e aguentar com a dita picada directamente na pele, mas como estas abelhas fazem tudo em grupo, correcção: em grande e numeroso grupo, fiquei-me por aí…
Abertas as primeiras colmeias tentei provar ao grupo, e a mim mesmo, que a varroose é um mal universal e não há abelhas isentas de tal moléstia, mas foi uma frustração e que feliz frustração: os ditos ácaros não queriam nada com tais colónias ou seriam estas que conseguiram mecanismos de defesa eficazes?
No entanto, os forídeos, pequenas moscas da fauna local, acabam por provocar estragos tanto nestas abelhas como nos meliponídeos.
 http://meliponariodosertao.blogspot.com/2009/09/cuidado-com-os-forideos.html
http://meliponariodosertao.blogspot.com/2009/09/cuidado-com-os-forideos.html O João utilizava colmeias Langstrooth, talvez o modelo mais disseminado no Brasil.
As caixas encontravam-se sobre estrados metálicos e algumas apresentavam um curioso alimentador improvisado com uma garrafa de plástico. As chapas onduladas sobre o tampo não terão decerto o efeito desejado sobre a temperatura, mas é mais uma protecção para as caixas.

 À despedida retiramos dois quadros de mel das alças para que o grupo pudesse apreciar tal especialidade e para minha surpresa também o mel destas abelhas apresentava os elevados níveis de humidade que se verificam na região.
À despedida retiramos dois quadros de mel das alças para que o grupo pudesse apreciar tal especialidade e para minha surpresa também o mel destas abelhas apresentava os elevados níveis de humidade que se verificam na região. O sabor é sem dúvida excelente, apresentando no entanto algumas diferenças para com o mel dos meliponídeos. À minha pergunta sobre a longevidade deste produto, face à elevada humidade, não havia ainda uma resposta visto que a totalidade do mel é comercializada e consumida no espaço de poucos meses, uma tentadora perspectiva.
O sabor é sem dúvida excelente, apresentando no entanto algumas diferenças para com o mel dos meliponídeos. À minha pergunta sobre a longevidade deste produto, face à elevada humidade, não havia ainda uma resposta visto que a totalidade do mel é comercializada e consumida no espaço de poucos meses, uma tentadora perspectiva.Para retirarmos os equipamentos foi outra “aventura”: as abelhas enraivecidas não nos quiseram abandonar tão cedo nem tão perto. Felizmente que a floresta amazónica tinha a solução: embrenhamo-nos num maciço verde e aí sim conseguimo-nos livrar delas.
Não foi sem ironia que durante esta tarefa reparei que me tinha refugiado sob uma palmeira “tucumã”, cujo tronco è orlado de longos espinhos ao longo dos anéis do tronco e que muito me condicionavam os movimentos, não morri da “doença”, mas a “cura” quase não me poupava…
Finalmente compensamos os líquidos perdidos com um excelente suco de caju preparado pelo “seu” Chico e pela esposa, bebida que soube maravilhosamente a acompanhar o mel das abelhas africanizadas.
(1) “Em 1956, Warwick Kerr foi à África estudar a produção de mel do continente, para mais tarde aplicar seus conhecimentos ao Brasil. Quando retornou, trouxe 141 rainhas africanas (da espécie Apis mellifera scutellata, altamente produtiva e agressiva), das quais 51 sobreviveram. Rainhas e operárias foram postas em quarentena em uma floresta de eucalipto de Rio Claro (SP), para que apenas as menos agressivas fossem escolhidas.
As colméias eram fechadas por uma malha que permitia a passagem de operárias, mas não de rainhas. Como as abelhas estavam mostrando boa atividade, acreditou que retirar as malhas não causaria problema.
 Trinta abelhas enxamearam—se reproduziram—e os pesquisadores perderam o controle sobre elas. Com o incidente, pessoas foram picadas (alguns casos levaram a óbito) e muitos apicultores abandonaram a atividade de criação, o que fez a produção de mel cair. Kerr foi responsabilizado.
Trinta abelhas enxamearam—se reproduziram—e os pesquisadores perderam o controle sobre elas. Com o incidente, pessoas foram picadas (alguns casos levaram a óbito) e muitos apicultores abandonaram a atividade de criação, o que fez a produção de mel cair. Kerr foi responsabilizado.A partir daí, o cientista se dedicou a estudar a genética da produção e da agressividade dessas abelhas. Com apoio dos pesquisadores da USP, criou a abelha africanizada, um híbrido das espécies européias (comum no Brasil) e africana.
Além de mais mansa e bastante produtiva, a africanizada se mostrou resistente à varroa (praga que destrói colméias) e permitiu aos apicultores produzir o mel orgânico, onde não é necessário o uso de agrotóxicos.
Depois disso, Kerr passou a ser reconhecido por pesquisadores e respeitado pelos apicultores.”
http://pt.wikipedia.org/wiki/Warwick_Estevam_Kerr